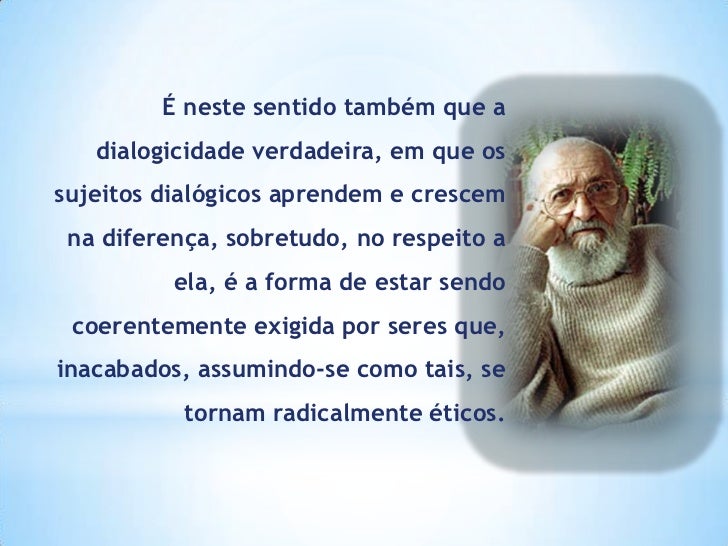A NOSSA COR NÃO NOS DEFINE
Refletindo
sobre o censo na turma de 7º ano, verifiquei que outra vez a definição de
cor/raça fica em segundo plano. Na escola, por exemplo, tem alunos que são
negros e se veem como brancos, pois para muitos não importa a cor da pele, mas
sim a amizade que se faz.
De
todas as fichas dos alunos que analisei, nenhuma estava preenchido cor/raça
porque no conceito dos pais, não há necessidade de definir se o filho é branco,
pardo ou negro.
De
acordo com o texto: “A cor ou raça nas estatísticas educacionais” ...teóricos
defendem a substituição do conceito de raça ou de cor pelo de etnia. Essa
preferência estaria amparada na noção de que o termo “etnia” transmitiria uma
ideia de pertencimento ancestral, remetendo a origem e interesses comuns
(Gomes, 2005).
Analisando
o conteúdo escrito, é muito mais salutar colocar etnia do que cor/raça, e não
rotular a pessoa como branca ou negra. Pois se considerarmos a realidade de
nosso estado, veremos que somos uma mistura de raças, muitos são de origem
europeia com português, outros de origem italiana com espanhol, índio com
alemão, uma miscelânea de etnias. Considerando este ponto de vista, não podemos
ser considerados da cor branca, negra, parda, amarela, em primeiro lugar somos
todos seres humanos.
No
Brasil, a cor da pele é considerada como critério para diferenciar a raça,
subjetivamente, já que também pode variar de acordo com a aparência, tom da
pele, segundo alguns estudiosos.
Darcy Ribeiro (2006, p.225) preceitua:
(...) a característica distintiva do
racismo brasileiro é que ele não incide sobre a origem racial as pessoas, mas
sobre a cor de sua pele. Nessa escala, negro é o negro retinto, o mulato já é o
pardo e com tal meio branco, e se a pele é um pouco mais clara, já passa a
incorporar a comunidade branca.”
No
século 18, o botânico sueco Carl von Linné criou o sistema de classificação dos
seres vivos – ainda hoje utilizado – e estabeleceu o nome científico
de Homo sapiens para a espécie humana. Mas, sem contrariar o
pensamento dominante na época, dividiu a humanidade em subespécies de acordo
com a cor da pele, o tipo físico e pretensos traços de caráter: os vermelhos
americanos, “geniosos, despreocupados e livres”; os amarelos asiáticos,
“severos e ambiciosos”; os negros africanos, “ardilosos e irrefletidos”; e os
brancos europeus, “ativos, inteligentes e engenhosos”. Essa classificação da
diversidade humana em “grandes raças” não só foi totalmente aceita como também
serviu de base para classificações futuras, que alteravam a de Linné e
oscilavam entre uma variedade que ia de três a 400 raças.
O texto “Aprender, ensinar e relações étnico-raciais
no Brasil” fala que:
Nós, brasileiros oriundos de
diferentes grupos étnico-raciais – indígenas, africanos, europeus, asiáticos –,
aprendemos a nos situar na sociedade, bem como o ensinamos a outros e outras
menos experientes, por meio de práticas sociais em que relações étnico-raciais,
sociais, pedagógicas nos acolhem, rejeitam ou querem modificar. Deste modo,
construímos nossas identidades – nacional, étnico-racial, pessoal –,
apreendemos e transmitimos visão de mundo que se expressa nos valores,
posturas, atitudes que assumimos, nos princípios que defendemos e ações que
empreendemos.
Cada
ser humano é único, e sabemos disso por que podemos identificar perfeitamente um
indivíduo por seu código genético, a não ser que tenha um gêmeo semelhante.
Referências:
SILVA, Petrolina B. G., Aprender, ensinar e
relações étnico-raciais no Brasil, p. 491,2007.